PARTE III
5. Estilhaços do
paraíso
“Não cessamos de comprar e vender nas várias ilhas, até que
chegamos à terra de Hind, onde compramos cravos-da-índia, gengibre e toda sorte
de especiarias, e dali viajamos para a terra de Sind, onde também compramos e
vendemos. Nesses mares indianos, vi incontáveis maravilhas.”
DE “SIMBÁ, O MARUJO”
EM O livro das mil e uma noites
O intrigante atrativo
das especiarias
Serpentes voadoras, aves
carnívoras gigantescas e criaturas ferozes semelhantes a morcegos eram apenas
alguns dos perigos que esperavam quem tentasse colher especiarias nas terras
exóticas em que elas cresciam, segundo os historiadores da antiga Grécia.
Heródoto, o escritor grego do século V a.C. conhecido como o “pai da história”,
explicou que para colher canela-da-china era preciso vestir um traje de corpo
inteiro feito com couro de boi, cobrindo tudo exceto os olhos. Somente assim a
pessoa estaria protegida das “criaturas aladas semelhantes a morcegos que
gritam horrivelmente e são muito ferozes... É preciso impedir que elas ataquem
os olhos dos homens enquanto eles cortam a canela-da-china.”
Mais
estranho ainda, afirmou Heródoto, era o processo de colheita da canela.
“Ignora-se por completo em que país ela cresce”, escreveu ele. “Dizem os árabes
que os paus secos que chamamos de canela são trazidos à Arábia por grandes
aves, que os carregam para seus ninhos feitos de barro e localizados sobre
precipícios nas montanhas que nenhum homem é capaz de galgar. O método
inventado para se obter os paus de canela é este: as pessoas cortam os corpos
de bois mortos em pedaços muito grandes e os deixam no chão perto dos ninhos.
Depois elas se dispersam, e as aves vêm voando e carregam a carne para seus
ninhos, os quais, sendo fracos demais para suportar o peso, caem no chão. Os homens
aproximam-se e apanham a canela. Adquirida desta maneira, ela é exportada para
outros países.”
Teofrasto, um filósofo grego do século IV
a.C., tinha uma história diferente. A canela, ele ouvira contar, crescia em
vales profundos, onde era guardada por serpentes mortais. A única maneira
segura de colhê-la era usando luvas e sapatos protetores e, tendo-a colhido,
deixar um terço da colheita para trás como um presente para o sol, que faria a
oferenda se inflamar. Outra história era contada sobre as serpentes voadoras
que protegiam as árvores que produzem o olíbano. Segundo Heródoto, os
colhedores da especiaria só podiam afugentar as serpentes queimando benjoim,
uma resina aromática, para produzir nuvens de incenso.
Escrevendo no século I, Plínio o Velho, um
escritor romano, não dava crédito a essas histórias. “Esses velhos contos”,
declarou, “foram inventados pelos árabes para elevar o preço de suas
mercadorias.” Ele poderia ter acrescentado que as histórias fantásticas serviam
também para camuflar dos compradores europeus as origens das especiarias. O
olíbano vinha da Arábia, mas a canela não; suas origens eram muito mais
distantes, no sul da Índia e no Sri Lanka, de onde era expedida através do
oceano Índico, juntamente com a pimenta e outras especiarias. Contudo, os
mercadores árabes que transportavam esses produtos importados junto com seus
próprios condimentos locais em caravanas de camelos através do deserto, até o
Mediterrâneo, preferiam manter envoltas em mistério as verdadeiras origens de
suas mercadorias incomuns.
Isso funcionava maravilhosamente. Os
clientes dos mercadores árabes em todo o Mediterrâneo estavam dispostos a pagar
somas extraordinárias por especiarias, em grande parte graças às suas
conotações exóticas e origens misteriosas. Não há nada de inerentemente valioso
nas especiarias, que são principalmente extratos vegetais derivados de seivas
secas, gomas e resinas, cascas de árvores, raízes, sementes e frutas secas, mas
elas eram apreciadas por seus aromas e sabores incomuns, que são em muitos
casos mecanismos defensivos para repelir insetos ou pragas. Além disso, as
especiarias são nutricionalmente irrelevantes. O que têm em comum é serem
duráveis, leves e de difícil obtenção, só podendo ser encontradas em lugares
específicos. Esses fatores as tornaram ideais para o comércio a longa distância
– e quanto maiores as distâncias pelas quais eram transportadas, mais
desejadas, exóticas e caras se tornavam.
Por que as especiarias
eram especiais
A palavra especiaria vem do latim species,
que é também a raiz de palavras como especial,
especialmente e assim por diante. O
sentido literal de species é “tipo”
ou “variedade” – a palavra ainda é usada nesse sentido em biologia –, mas ela
passou a denotar itens valiosos porque era usada para designar os tipos ou
variedades de coisas sobre as quais era preciso pagar imposto. A Tarifa de
Alexandria, um documento romano do século V, é uma lista de 54 desses itens,
sob o título species pertinentes ad vectigal, que significa
literalmente “os tipos (de coisas) sujeitos a taxas”. A lista inclui canela,
canela-da-china, gengibre, pimenta-branca, cardamomo, agáloco e mirra, todos
itens de luxo sujeitos a uma taxa de importação de 25% no porto egípcio de
Alexandria, através do qual as especiarias do Oriente seguiam rumo ao Mediterrâneo
e mais além para fregueses europeus.
Hoje reconheceríamos essas variedades, ou
“species”, como especiarias. Mas a
Tarifa de Alexandria arrola também vários itens exóticos – leões, leopardos,
panteras, seda, marfim, casco de tartaruga e eunucos indianos – que eram tecnicamente
também especiarias. Como apenas itens de luxo raros e dispendiosos, sujeitos a
taxas extras, eram assim qualificados, se a oferta de um item aumentava e seu
preço caía, ele podia ser retirado da lista. Isso provavelmente explica porque
a pimenta-do-reino, a especiaria mais usada pelos romanos, não aparece na
Tarifa de Alexandria: ela se tornara banal no século V em resultado de importações
cada vez maiores da Índia. Hoje a palavra especiaria é usada de maneira mais restrita,
aplicável somente a itens comestíveis ou culinários. Pimenta-do-reino é uma especiaria,
embora não apareça na Tarifa, e tigres não são, embora apareçam.
As especiarias eram portanto, por
definição, mercadorias importadas e caras. Esse era um componente a mais de sua
atratividade. Consumi-las era uma maneira de demonstrar riqueza, poder e generosidade.
Elas eram dadas de presente, legadas em testamentos ao lado de outros itens de
valor, e até usadas como moeda em alguns casos. Na Europa, os gregos parecem
ter sido os pioneiros em usá-las na culinária – antes eram utilizadas em
incensos e perfumes. Como aconteceu com tantas outras coisas, os romanos tomaram
emprestada, ampliaram e popularizaram essa ideia grega. O livro de receitas de
Apício, uma compilação de 478 receitas romanas, requeria generosas quantidades
de especiarias estrangeiras, entre as quais pimenta, gengibre, saussúrea,
malóbatro, nardo e cúrcuma, em receitas como a de avestruz condimentada. Na
Idade Média, a comida era prodigamente afogada em especiarias. Nos livros de
culinária medievais, elas aparecem em pelo menos metade das receitas, por vezes
três quartos delas. Carne e peixe eram servidos com molhos intensamente
condimentados, inclusive com várias combinações de cravos, noz-moscada, canela,
pimenta e macis. Com sua comida ricamente temperada, a elite tinha literalmente
gostos caros.
Esse entusiasmo pelas especiarias é por
vezes atribuído a seu uso para mascarar o gosto de carne podre, dada a suposta
dificuldade de conservação desta por longos períodos. Mas usá- las dessa
maneira teria sido uma coisa muito estranha, em vista do seu alto custo.
Qualquer pessoa com condições para comprar especiarias teria certamente tido
condições para comprar carne boa; as especiarias eram de longe o ingrediente
mais caro. E há muitos registros medievais de comerciantes punidos por vender
carne em mau estado, o que sem dúvida desmente a noção de que esta era
invariavelmente pútrida e sugere que isso era a exceção, não a regra. A origem
do mito surpreendentemente persistente sobre carne ruim e especiarias reside no
uso destas para ocultar o gosto salgado da carne conservada pela salga, uma
prática generalizada.
Num outro sentido, mais místico, as
especiarias eram vistas como antídotos para a miséria terrena. Pensava-se que
eram estilhaços do paraíso que tinham caído no mundo comum. Segundo algumas
autoridades antigas, o gengibre e a canela eram pescados no Nilo com redes,
tendo sido arrastados do rio do paraíso (ou do Jardim do Éden, segundo autores
cristãos posteriores), onde plantas exóticas cresciam em abundância. Eles
proporcionavam um gosto sobrenatural do paraíso em meio à sórdida realidade da
existência terrena. Daí o uso religioso do incenso, para fornecer o aroma do
reino celeste, e o costume de oferecer especiarias aos deuses como oferendas
incandescentes. Especiarias eram também usadas para embalsamar os mortos e
prepará-los para a vida após a morte. Um escritor romano chegou mesmo a dizer
que a mítica fênix fazia seu ninho com – que mais? – uma seleção de
especiarias. “Ela reúne as especiarias e aromas colhidos pelos assírios e pelos
ricos árabes; aqueles que são colhidos pelos povos pigmeus e pela Índia, e que
crescem no seio macio da terra de Sabá. Reúne canela, o perfume do amomo, que
flutua longamente no ar, bálsamos misturados com folhas de tejpat; há também uma nota de cássia suave e goma-arábica, e ricas
gotas de olíbano. Acrescenta as tenras espigas do suave nardo e o poder da
mirra de Panqueia.”
O atrativo desses produtos, portanto,
originou-se de uma combinação de suas origens misteriosas e distantes, seus
consequentes altos preços e valor como símbolo de status e suas conotações
místicas e religiosas – além, é claro, de seu aroma e sabor. O fascínio antigo
pelas especiarias pode parecer arbitrário e estranho hoje, mas sua intensidade
não pode ser subestimada. A busca por elas foi a terceira maneira pela qual o
alimento refez o mundo, tanto ao ajudar a iluminar sua completa extensão e
geografia quanto ao motivar exploradores europeus a procurar um acesso direto
para as Índias, estabelecendo, assim, impérios comerciais rivais. Examinar o
comércio de especiarias da perspectiva europeia pode parecer estranho, uma vez
que esse continente ocupou nele apenas uma posição periférica e um papel
pequeno nos tempos antigos. Isso serviu, porém, para especialmente realçar o
mistério e o atrativo desses produtos para os europeus, levando-os finalmente a
descobrir as verdadeiras origens dessas raízes secas, bagas murchas, ramos
ressecados, lascas de casca de árvore e fragmentos pegajosos de goma tão
estranhamente atraentes – com consequências da máxima importância para o curso
da história humana.
A rede internacional do
comércio de especiarias
Por volta de 120 a.C., um navio
foi encontrado encalhado no litoral do mar Vermelho, aparentemente sem nenhum
sobrevivente. Todos a bordo tinham morrido de fome – exceto, como se descobriu,
um homem, e também ele estava quase morto. Deram-lhe água e comida e levaram-no
para a corte egípcia em Alexandria, onde foi apresentado ao rei Ptolomeu VIII
(conhecido como Fiscon, ou “barrigudo”, por causa de sua pança). Contudo, como
ninguém conseguia entender o que o marinheiro estrangeiro dizia, o rei o
despachou para aprender um pouco de grego, a língua oficial do Egito na época.
Não muito tempo depois, o marinheiro voltou à corte para contar sua história.
Explicou que era da Índia e que seu navio, tendo se desviado da rota ao cruzar
o oceano, acabara à deriva no mar Vermelho.
Como a única rota conhecida para a Índia
na época envolvia bordejar a costa da península Arábica – algo que os
marinheiros alexandrinos eram proibidos de fazer pelos mercadores árabes, que
queriam guardar o lucrativo comércio com a Índia para si mesmos –, a referência
do marinheiro a uma rota rápida e direta através do oceano aberto foi recebida
com descrença. Para provar que dizia a verdade, e certamente para assegurar uma
passagem de volta para casa, o marinheiro ofereceu-se como guia numa expedição
à Índia. O rei concordou e nomeou como chefe da expedição um de seus leais
conselheiros, um grego chamado Eudoxo, conhecido por seu interesse em geografia.
Eudoxo partiu no dia aprazado e voltou muitos meses depois com um carregamento
de especiarias e joias, que o rei confiscou todo para si. Mais tarde, Eudoxo
fez uma segunda viagem à Índia por ordem da mulher e sucessora de Ptolomeu
VIII, Cleópatra III. Inspirado pelo naufrágio do que parecia ser um navio
espanhol na costa da Etiópia, no leste da África, ele tornou-se obcecado pela
ideia de que era possível navegar por toda a volta do continente. Navegou ao
longo do litoral norte e rumou para o Atlântico para tentar a circunavegação,
mas nunca mais se teve notícia dele.
Essa, pelo menos, é a história contada por
Estrabão, filósofo grego que escreveu um tratado de geografia no início do
século I. O próprio Estrabão era cético em relação à história: por que o
marinheiro indiano sobreviveu se todos os seus companheiros de bordo morreram? Como
aprendeu grego tão depressa? No entanto, a história parece plausível porque o comércio
direto por via marítima entre o mar Vermelho e a costa oeste da Índia realmente
teve início durante o século I a.C., logo após a suposta aparição do náufrago
indiano em Alexandria. Até essa época, só marinheiros árabes e indianos
conheciam o segredo dos ventos alísios sazonais, que permitiam uma passagem
rápida e regular através do oceano entre a península Arábica e a costa oeste da
Índia. Esses ventos sopram do sudoeste entre junho e agosto e impelem navios em
direção ao leste; depois, entre novembro e janeiro, sopram do nordeste e
impelem-nos novamente em direção ao oeste. O conhecimento dos ventos e o controle
dos árabes sobre as rotas por terra através da península Arábica davam aos comerciantes
indianos e árabes um firme controle sobre o comércio entre a Índia e o mar Vermelho.
Eles vendiam especiarias e outras mercadorias orientais a comerciantes alexandrinos
em mercados no sudoeste da Arábia. Essas mercadorias eram depois enviadas mar
Vermelho acima, por terra até o Nilo, e finalmente Nilo acima até a própria
Alexandria.
Na esteira de Eudoxo, no entanto,
marinheiros alexandrinos aprenderam como tirar proveito dos ventos alísios –
consta que os detalhes foram descobertos por um grego chamado Hipalo, cujo nome
foi dado ao vento sudoeste. Eles tornaram-se então capazes de passar ao largo
dos mercados árabes e navegar diretamente através do oceano para a costa oeste
da Índia, eliminando os intermediários árabes e indianos. O volume das
expedições aumentou quando comerciantes romanos ganharam acesso direto ao mar
Vermelho, após a anexação do Egito por Roma em 30 a.C. O controle romano do
comércio entre o mar Vermelho e a Índia foi cimentado sob o imperador Augusto,
que ordenou ataques aos portos do sul da Arábia, reduzindo Aden, o principal
entreposto, a uma “mera aldeia”, segundo um observador. No início do século I,
nada menos que 120 navios romanos navegavam para a Índia todos os anos para
comprar especiarias, entre as quais pimenta-do-reino, saussúrea e nardo –
juntamente com pedras preciosas, seda chinesa e animais exóticos para serem
abatidos nas muitas arenas do mundo romano. Pela primeira vez, os europeus
haviam se tornado participantes diretos da florescente rede comercial do oceano
Índico, o eixo do comércio global na época.
O “Périplo do mar Eritreano”, um manual
para marinheiros escrito no século I por um navegador grego desconhecido, dá
uma ideia da frenética atividade comercial nos mercados interconectados pelo
oceano Índico. Ele descreve os portos ao longo da costa oeste da Índia e suas
especialidades, de Barbarikon no norte (um bom lugar para comprar saussúrea, nardo,
bdélio e lápis-lazúli) a Barygaza (bom para pimenta-longa, marfim, seda e uma
forma local de mirra), até Nelcynda, quase na extremidade sul do país. Nessa
região, o principal comércio era o de pimenta, “cultivada em quantidade” no
interior, segundo o Périplo. Havia também oferta de malóbatro, a folha da
canela local e uma especiaria particularmente apreciada: meio quilo de folhas
pequenas alcançavam 75 denários em Roma, ou cerca de seis vezes o salário
mensal básico. Em todos esses portos, os comerciantes romanos ofereciam vinho,
cobre, estanho, chumbo, vidro e coral vermelho do Mediterrâneo, apreciado na
Índia como um amuleto protetor. Mas, em geral, os comerciantes romanos tinham
de pagar pelas especiarias com ouro e prata, pois a maioria de suas mercadorias
tinha pouco atrativo para os comerciantes indianos. Os poemas em tâmil do
século I mencionam os “yavanas”, um termo genérico para pessoas do Ocidente,
com seus grandes navios e riqueza que “nunca minguavam”, uma referência às
vastas quantidades de ouro e prata que eram entregues em troca de especiarias.
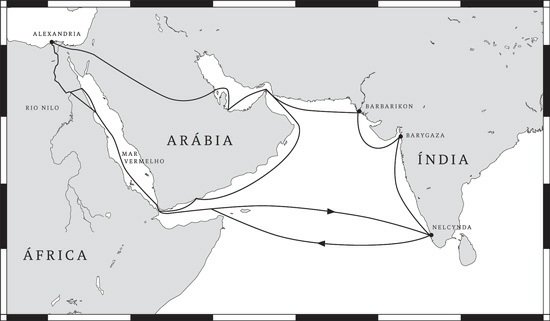 |
| A rota marítima para a Índia deu aos marinheiros alexandrinos (e mais tarde aos romanos) acesso direto ao mercado de especiarias, evitando a Arábia inteiramente. |
Em seguida, o Périplo fala dos portos da
costa leste da Índia e dos navios pequenos que faziam comércio entre as costas
leste e oeste. Menciona também os navios muito maiores que atravessam a baía de
Bengala, entre a Índia e o sudeste da Ásia, provavelmente embarcações malaias
ou indonésias. Dado o tamanho dos navios romanos, o fato de as dimensões dessas
outras embarcações serem ressaltadas sugere que elas eram realmente muito
grandes. Provavelmente, transportavam mercadorias de regiões mais a leste, como
noz-moscada, macis e cravos das ilhas das especiarias da Indonésia (as Molucas)
e seda da China.
Além desse ponto, o Périplo torna-se
bastante vago. Fornece, porém, pelo menos um vislumbre, pela perspectiva
europeia, de uma vasta rede comercial cujas primeiras conexões haviam sido
estabelecidas milhares de anos antes. O cardamomo do sul da Índia já estava disponível
na Mesopotâmia no terceiro milênio a.C.; navios egípcios já traziam olíbano e outras
plantas aromáticas da terra de Punt (provavelmente Etiópia) no segundo milênio
a.C., e o faraó Ramsés II foi enterrado, em 1224 a.C., com um grão de
pimenta-do-reino da Índia enfiado em cada uma das narinas. Numa onda de
expansão entre 500 a.C. e 200 d.C., no entanto, a rede do comércio de
especiarias passou a abarcar todo o Velho Mundo, com a canela e a pimenta da
Índia sendo levadas a regiões tão a oeste quanto a Britânia, e o olíbano da
Arábia chegando tão a leste quanto a China. A plena extensão dessa rede era,
porém, geralmente desconhecida por seus participantes, uma vez que nem sempre
eles estavam cientes das origens das mercadorias que comerciavam. Assim como os
gregos pensavam que as especiarias indianas que chegavam até eles por meio de comerciantes
árabes provinham de fato da Arábia, do mesmo modo, ao que parece, os chineses
supunham que noz-moscada e cravos vinham da Malásia, de Sumatra ou de Java,
embora estes fossem na realidade apenas portos de escala ao longo das rotas de
comércio marítimo desde sua verdadeira fonte mais a leste, nas Molucas.
As especiarias também cruzavam o mundo por
terra. Desde o século II a.C., rotas terrestres conectavam a China ao leste do
Mediterrâneo, ligando o mundo romano no Ocidente à China Han no Oriente. (No
século XIX, essas rotas foram chamadas de Rota da Seda, embora muitos produtos
além desse fossem transportados por ali e embora houvesse, de fato, uma rede de
caminhos Oriente-Ocidente, não uma única rota.) Almíscar, ruibarbo e alcaçuz
eram comerciados por essa via. Especiarias também viajavam por terra entre o
norte e o sul da Índia, entre a Índia e a China e entre o sudeste da Ásia e o interior
da China. Noz-moscada, macis e cravos eram disponíveis na Índia e na China nos
tempos romanos, mas só passaram a chegar regularmente à Europa nos estertores
do Império Romano.
A extensão desse comércio e o montante
gasto com a importação de mercadorias estrangeiras exóticas provocaram alguma
oposição em Roma. Em primeiro lugar, ele era extravagante, o que não condizia
com os valores romanos, supostamente tradicionais, de modéstia e frugalidade.
Significava também que grandes quantidades de prata e ouro estavam fluindo para
o Oriente. Para compensar esse fluxo, era preciso que os romanos encontrassem novas
fontes de metais preciosos, seja através da conquista ou pela abertura de novas
minas. E tudo isso se destinava à compra de produtos que eram, estritamente falando,
desnecessários e vendidos a preços exorbitantes.
Nas palavras de Plínio o Velho: “A Índia
absorve pelo menos 55 milhões de sestércios de nossa riqueza por ano, mandando
de volta mercadorias que nos são vendidas por cem vezes o seu custo original.”
No total, relatou ele, o déficit comercial anual de Roma com o Oriente montava
a cem milhões de sestércios, ou cerca de dez toneladas de ouro, depois que a
seda chinesa e outros artigos finos passaram a ser contados junto com as
especiarias. “Essa é a soma que nossos luxos e nossas mulheres nos custam”,
lamentou. Plínio dizia-se perplexo com a popularidade da pimenta. “É notável
que seu uso tenha se tornado tão apreciado. Algumas comidas têm a doçura como
atrativo, outras têm uma aparência convidativa, mas no caso da pimenta nem o
grão nem a fruta têm nada que os recomendem”, escreveu. “A única qualidade agradável
é sua pungência – e por causa disso vamos à Índia!”
De maneira semelhante, Tácito,
contemporâneo de Plínio, preocupava-se com a dependência romana de “luxos
extravagantes da mesa”. Quando escreveu essas palavras, por volta do fim do
século I, contudo, o comércio romano de especiarias já não estava mais no auge.
Nos séculos seguintes, à medida que o Império Romano declinou e sua riqueza e
esfera de influência encolheram, o comércio direto de especiarias com a Índia
minguou; os comerciantes árabes, indianos e persas se reafirmaram como os
principais fornecedores para o Mediterrâneo. Mas as especiarias continuaram a
circular. Um livro de receitas romano do século I, Os excertos de Vinidário, lista mais de 50 ervas, especiarias e
extratos de plantas sob o título “Sumário das especiarias que se deve ter em
casa para que nada falte à condimentação dos pratos”, inclusive pimenta,
gengibre, saussúrea, nardo, folha de canela e cravos. Quando sitiou Roma em 408
d.C., Alarico, o rei dos Godos, exigiu um resgate de 2.200 quilos de ouro,
30.000 peças de prata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 peças de tecido e 1.300
quilos de pimenta. Evidentemente, a oferta de seda chinesa e pimenta indiana continuava,
mesmo enquanto o Império Romano desmoronava e fragmentava-se.
No entanto, durante o período em que
floresceu, o comércio direto com o Oriente introduziu brevemente o povo da
Europa no vibrante sistema comercial do oceano Índico. No século I, essa rede
comercial abarcava todo o Velho Mundo, interligando os mais poderosos da Eurásia
na época: o Império Romano na Europa, o Império Parto na Mesopotâmia, o Império
Kushan no norte da Índia e a dinastia Han na China. (Roma e China chegaram até
a estabelecer contatos diplomáticos mútuos.) As especiarias eram apenas uma das
coisas que viajavam através dessa rede global por terra e mar. Por terem uma
relação muito vantajosa entre valor e peso, só poderem ser encontradas em
certas partes do mundo, serem facilmente armazenadas e intensamente procuradas,
porém, as especiarias foram excepcionais, sendo comerciadas de uma ponta a
outra da rede, como demonstram, por exemplo, as referências em fontes romanas aos
cravos, que só cresciam nas ilhas Molucas, do outro lado do globo. Elas levavam
um sabor do sudeste da Ásia para mesas romanas e o perfume da Arábia para
templos chineses. E à medida que eram comerciadas pelo mundo todo, as especiarias
levavam também outras coisas consigo.
Carregadas de
significado
Mercadorias não são as únicas
coisas que circulam ao longo de rotas comerciais. Novas invenções, línguas,
estilos artísticos, costumes sociais e crenças religiosas, tanto quanto mercadorias
físicas, são também transportados através do mundo por comerciantes. Foi assim que
o conhecimento sobre o vinho e sua fabricação viajou do Oriente Próximo para a
China no século I, e que o conhecimento sobre o macarrão fez a viagem na
direção contrária. Outras ideias logo se seguiram, inclusive o papel, a bússola
magnética e a pólvora. Os numerais arábicos originaram-se realmente na Índia,
mas foram transmitidos para a Europa através de comerciantes árabes, o que
explica seu nome. Influências helenísticas são claramente visíveis na arte e na
arquitetura da cultura kushan do norte da Índia; as construções venezianas eram
decoradas com floreios árabes. No entanto, em dois campos em particular –
geografia e religião – comércio e transmissão de conhecimento reforçavam-se
mutuamente.
 |
| No século I, as redes de comércio do Velho Mundo, ligavam o Mediterrâneo, no Ocidente, à China e às ilhas das especiarias, no Oriente. |
Uma das coisas que fazem as especiarias
parecerem tão exóticas é sua associação com terras misteriosas e longínquas.
Para os geógrafos primitivos do Velho Mundo, que tentavam compor os primeiros
mapas e descrições do mundo, as especiarias muitas vezes marcavam os limites de
seu conhecimento. Estrabão, por exemplo, referiu-se ao “país indiano que produz
canela” situado “na borda do mundo habitável”, além do qual a Terra, dizia ele,
era quente demais para permitir aos seres humanos viver. Mesmo o autor do
Périplo, mais viajado, tinha pouca ideia do que acontecia a leste da foz do
Ganges: havia uma grande ilha, “o último lugar habitável do mundo”
(possivelmente Sumatra), depois do qual “o mar chega ao fim em algum lugar”.
Para o norte ficava a misteriosa terra de “Thina” (China), a fonte da seda e
das folhas de malóbatro (canela).
Os comerciantes e geógrafos dependiam uns
dos outros: os primeiros precisavam de mapas, e os cartógrafos precisavam de
informação. Os comerciantes visitavam geógrafos antes de viajar, e podiam
partilhar informações na volta. Saber quantos dias de viagem eram necessários
para chegar de um ponto a outro, ou itinerários típicos de rotas particulares, tornava
possível a estimativa de distâncias, e assim a elaboração de mapas. Desse modo
os geógrafos aprendiam sobre o traçado do mundo como um resultado indireto do
comércio de especiarias e outras mercadorias. É também por isso que tanta
informação sobre especiarias vem dos primeiros geógrafos. Nem eles nem os
comerciantes queriam revelar todos os seus segredos, mas alguma troca de ideias
fazia sentido para ambas as partes. Os comerciantes trabalhavam de mãos dadas
com cartógrafos, culminando no mapa compilado no século II por Ptolomeu, um
matemático, astrônomo e geógrafo romano. Surpreendentemente preciso mesmo para
padrões modernos, ele formou a base da geografia ocidental por mais de mil
anos.
A interdependência da geografia e do
comércio foi ressaltada pelo próprio Ptolomeu, que observou que era somente
graças àquele que a localização da Torre de Pedra, um posto comercial
fundamental na Rota da Seda para a China, era conhecida. Ele estava
perfeitamente ciente de que a Terra era esférica, algo que havia sido demonstrado
por filósofos gregos centenas de anos antes, e deu tratos à bola para encontrar
a melhor maneira de representar isso numa superfície plana. Sua estimativa da
circunferência da Terra, no entanto, estava errada. Embora Eratóstenes, um
matemático grego, tivesse feito esse cálculo 400 anos antes e chegado bem perto
da resposta certa, o número de Ptolomeu foi um sexto menor – assim, ele pensou que
a massa de terra eurasiana estendia-se pelo mundo muito mais do que de fato o
faz. Essa superestimação da extensão de terras da Ásia para o leste foi um dos
fatores que mais tarde estimularam Cristóvão Colombo a viajar rumo ao oeste
para encontrá-la.
Ptolomeu acreditava também que o oceano
Índico era cercado de terra por todos os lados, apesar de relatos de que podia
ser alcançado a partir do Atlântico quando se contornava o extremo sul da
África. (Heródoto, por exemplo, contou sobre fenícios que haviam circunavegado
a África por volta de 600 a.C., levando cerca de três anos para fazê-lo e achando
as estações do ano estranhamente invertidas à medida que avançavam para o sul.)
Geógrafos árabes compreenderam durante o século X que a ideia de um oceano
Índico cercado por terra era errada. Um deles, al-Biruni, escreveu sobre “uma
abertura nas montanhas ao longo da costa sul [da África]. Há certas provas
dessa comunicação, embora ninguém tenha sido capaz de confirmá-la visualmente.”
Os informantes de al-Biruni eram sem dúvida comerciantes.
Crenças religiosas eram outro tipo de
informação que se espalhava naturalmente ao longo de rotas comerciais, à medida
que missionários seguiam caminhos abertos por comerciantes e que os próprios
comerciantes levavam suas crenças para novas terras. O budismo Mahayana espalhou-se
pelas rotas comerciais da Índia até a China e o Japão, e o budismo Hinahyana espalhou-se
do Sri Lanka até Burma, Tailândia e Vietnã. Reza a tradição que, no século I, o
apóstolo Tomás levou o cristianismo para a costa de Malabar, na Índia, chegando
num navio mercante de especiarias a Cranganore (a moderna Kodungallur) em 52
d.C. Mas a simbiose religiosa mais impressionante foi com o islamismo. Sua
expansão inicial, a partir de seu lugar de origem, na península Arábica, foi de
natureza militar. Um século depois da morte do profeta Maomé, em 632 d.C., seus
seguidores já haviam conquistado toda a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina e a
Síria, o Egito, o resto da costa norte-africana e a maior parte da Espanha.
Após o ano 750 d.C., porém, a difusão do islamismo esteve estreitamente
associada ao comércio: à medida que viajavam para fora da península Arábica, os
comerciantes muçulmanos levavam sua religião consigo.
Os distritos comerciais árabes em portos
estrangeiros logo se converteram ao islamismo. Os impérios africanos que
comerciavam com o mundo muçulmano através do Saara (como o reino de Gana e o
Império Mali que o substituiu) converteram-se entre os séculos X e XII. O islamismo
espalhou-se também ao longo de rotas comerciais para as cidades da costa leste
da África. E, é claro, foi levado através das rotas das especiarias do oceano
Índico para a costa oeste da Índia, e além. No século VIII, comerciantes árabes
estavam navegando por todo o percurso até a China para comerciar em Cantão – um
comércio direto facilitado pela unificação política produzida pela ascensão do
islamismo no Ocidente e o início da dinastia Tang da China no Oriente.
Tratava-se, contudo, de uma viagem particularmente perigosa. Buzurg ibn
Shahriyar, um escritor persa, fala do capitão Abharah, um navegador lendário
que fez a viagem para a China sete vezes e viveu para contar a história, mas
por pouco: vítima de um naufrágio em uma de suas viagens, ele escapou como o
único sobrevivente de seu navio.
Esse foi o período das estrambólicas
aventuras descritas nas histórias de Simbá, o Marujo, que faz grandes viagens
oceânicas, volta para casa como um homem rico, gasta o butim e depois fica
ávido por aventuras, partindo novamente. As histórias de Simbá se baseiam nas experiências
reais de comerciantes árabes que atravessavam o oceano Índico. Ocorre que o comércio
direto com a China terminou em 878 d.C., quando rebeldes que se opunham ao regime
Tang saquearam Cantão e mataram milhares de estrangeiros; dali em diante os mercadores
da Arábia não foram além da Índia ou do sudeste da Ásia, onde comerciavam com mercadores
chineses. O islamismo, contudo, continuou a se espalhar ao longo das rotas comerciais
e finalmente se enraizou por toda a volta do oceano Índico, chegando a Sumatra
no século XIII e às ilhas das especiarias, as Molucas, no século XV.
Comércio e islamismo provaram-se
extremamente compatíveis. A profissão de comerciante era considerada honrada,
até porque o próprio Maomé a exercera, fazendo várias viagens à Síria ao longo
das rotas terrestres que levavam especiarias do oceano Índico para o
Mediterrâneo. À medida que o islamismo se difundiu, a língua, a cultura, as
leis e os costumes comuns dentro do mundo muçulmano proporcionaram um ambiente
fértil em que o comércio pôde prosperar. Comerciantes muçulmanos em viagem eram
mais propensos a fazer negócios com correligionários nos centros comerciais, e
depois que uma importante cidade comercial em determinada região se convertia
ao islamismo, fazia sentido para outras cidades nas proximidades seguir seu
exemplo, adotando as leis muçulmanas e a língua árabe. O explorador veneziano
Marco Polo, visitando Sumatra no fim do século XIII, observou que a extremidade
nordeste da ilha era “tão frequentada por comerciantes sarracenos [árabes] que
eles tinham convertido os nativos à Lei de Maomé”. Mesmo que alguns comerciantes
se convertessem de início por razões de conveniência comercial, a rápida difusão
do islamismo sugere que eles, ou pelo menos seus descendentes, logo se tornaram
inteiramente sinceros em sua adesão à nova religião. O comércio espalhou o
islamismo, e o islamismo promoveu o comércio. Vale a pena notar que no fim do
século XX, os dois países com as maiores populações muçulmanas eram a Indonésia
e a China – ambos muito além do âmbito das conquistas militares islâmicas.
Duas figuras históricas ilustram o alcance
e o poder unificador do islamismo. A primeira é Ibn Battuta, um muçulmano de
Tânger, muitas vezes chamado de o Marco Polo árabe. Em 1325, aos 21 anos, ele
partiu para uma peregrinação (hajj) a
Meca, aonde chegou no ano seguinte, tendo visitado Cairo, Damasco e Medina ao
longo do caminho. Em vez de voltar diretamente para casa, ele decidiu viajar um
pouco mais e embarcou no que viria a ser uma viagem de 29 anos e 117 mil
quilômetros por grande parte do mundo conhecido. Visitou o Iraque, a Pérsia, a
costa leste da África, a Turquia e a Ásia Central, e viajou através do oceano
Índico em direção ao sul da China. Depois retornou ao norte da África, a partir
de onde visitou o sul da Espanha e o reino de Mali, na África Central. Foi uma
viagem assombrosa por quaisquer padrões, mas é particularmente notável que
durante a maior parte dela Ibn Battuta tenha permanecido dentro do mundo muçulmano,
ou do que os muçulmanos chamam de dar
al-Islam (literalmente, “a residência do islamismo”). Ele serviu como juiz
em Delhi e nas Maldivas, foi enviado como embaixador à China por um sultão
indiano e, quando visitou Sumatra, em 1346, constatou que os juristas eram
membros de sua própria escola Hanafi de pensamento jurídico.
A segunda figura é Zheng He, almirante da
extraordinária armada de navios-tesouro da China. Entre 1405 e 1433, ele
comandou sete viagens oficiais, cada uma com dois anos de duração, que
avançaram muito pelo oceano Índico. Sua frota de 300 navios tripulados por 27 mil
marinheiros era a maior já reunida, e não seria superada em tamanho por mais
500 anos. Zheng He tinha ordens para apresentar a riqueza, o poder e a
sofisticação da China a outras nações, estabelecer ligações diplomáticas e
estimular o comércio. Assim, passando pelas ilhas das especiarias no sudeste da
Ásia, ele navegou até a costa da Índia, subiu o golfo Pérsico e avançou a oeste
até a costa leste da África. Ao longo do caminho, seus navios recolheram
curiosidades, comerciaram com soberanos locais e reuniram embaixadores para levá-los
à China. Zheng He era o embaixador chinês no mundo exterior; talvez surpreendentemente,
era também um muçulmano. Mas isso o tornava idealmente qualificado para
percorrer os portos, mercados e palácios dos reinos em torno do oceano Índico.
No fim das contas, porém, seus esforços deram em nada, já que, embora ele tenha
estabelecido a China como uma presença poderosa no oceano Índico, rivalidades
internas dentro da corte chinesa levaram ao desmantelamento da Marinha, em
parte para atender a queixas políticas, mas também para que fosse possível
desviar recursos para a proteção do Império contra inimigos vindos do norte.
Se as rotas de comércio de especiarias do
mundo eram as redes de comunicação da época, conectando terras distantes, então
o islamismo era o protocolo comum com que elas operavam. Mas, embora o comércio
florescesse no mundo muçulmano, a ascensão do islamismo teve o efeito de isolar
a Europa do sistema comercial do oceano Índico. Depois que Alexandria foi
tomada por tropas muçulmanas em 641 d.C., as especiarias não puderam mais
chegar diretamente ao Mediterrâneo. Os europeus foram relegados a uma região comercialmente
estagnada por uma “cortina muçulmana” que bloqueava seu acesso ao Oriente.
Contornar a cortina
muçulmana
Em 1345, Jani Beg, o chefe da
Horda Dourada, fez um cerco ao porto de Caffa, na península da Crimeia. A Horda
Dourada (o fragmento mais a oeste do então prostrado Império Mongol) havia
vendido a cidade a comerciantes genoveses em 1226, e ela era o principal
empório comercial destes no mar Negro. Mas Jani Beg desaprovava o uso do porto
para o comércio de escravos, e tentou retomá-lo. Exatamente quando parecia
prestes a ocupar o porto, seu exército foi atingido por uma terrível peste.
Segundo um relato da época feito por Gabriele de Mussi, um notário italiano, as
tropas de Jani Beg carregaram as catapultas com os cadáveres atingidos pela
peste e os lançaram na cidade. Os genoveses jogaram os corpos para fora das muralhas
de Caffa e no mar, mas a peste se apoderara da cidade. “Logo, como se poderia supor,
o ar ficou contaminado e os poços d’água envenenados, e dessa maneira a doença
se espalhou tão rapidamente que poucos habitantes tiveram forças suficientes
para escapar dela”, registrou De Mussi. Mas alguns dos genoveses conseguiram fugir
– e quando avançaram para o Ocidente, levaram consigo a peste em seus navios.
A peste, hoje conhecida como Peste Negra,
espalhou-se por toda a bacia do Mediterrâneo durante 1347, chegando à França e
à Inglaterra em 1348 e à Escandinávia em 1349, matando entre um terço e metade
da população da Europa até 1353, segundo algumas estimativas. “Uma peste atacou
quase todas as terras costeiras do mundo e matou a maioria das pessoas”, registrou
um cronista bizantino. A especificação biológica exata dessa peste ainda é
acaloradamente debatida, mas geralmente se pensa tratar-se da peste bubônica,
transmitida por pulgas de ratos-pretos. Ela era conhecida na época como a
“pestilência”, e a expressão “Peste Negra”, cunhada no século XVI, tornou-se
popular no século XIX. Nenhum tratamento podia salvar as vítimas depois que a
peste se instalava. Há relatos de pessoas sendo trancafiadas em suas casas para
impedir que a peste se alastrasse, e de pessoas abandonando suas famílias para
evitar o contágio. Os médicos propunham toda sorte de medidas estranhas que
iriam, segundo eles, minimizar o risco de infecção, aconselhando as pessoas
gordas a não tomarem sol, por exemplo, e emitindo uma série desconcertante de conselhos
dietéticos. Médicos em Paris recomendaram às pessoas evitar hortaliças, em
conserva ou frescas; evitar frutas, a menos que consumidas com vinho; e
abster-se de comer aves, patos e leitão. “Azeite de oliva”, advertiam, “é
fatal.”
Além das longas listas de produtos a
evitar, havia alguns exemplos de alimentos que supostamente ofereciam proteção
contra a peste – entre eles se destacavam as especiarias, com suas associações
exóticas, quase mágicas, seus aromas pungentes e uma longa história de usos medicinais.
Os médicos franceses recomendavam que se bebesse caldo de carne temperado com
pimenta, gengibre e cravos. Como se pensava que a peste era transmitida pelo ar
contaminado, as pessoas eram aconselhadas a queimar incenso e borrifar água de
rosas em suas casas, e a levar consigo várias misturas de pimenta, pétalas de
rosa e outras substâncias aromáticas quando saíssem. O escritor italiano
Giovanni Boccaccio descreveu pessoas que “saíam de casa carregando nas mãos
flores ou ervas aromáticas ou diversos tipos de especiarias, que levavam
frequentemente a seus narizes”. Isso ajudava a esconder o cheiro dos mortos e
moribundos, bem como, supostamente, a purificar o ar. João de Escenden,
professor adjunto da Universidade de Oxford, estava convencido de que uma
combinação de canela em pó, babosa, mirra, açafrão, macis e cravos lhe
permitira sobreviver mesmo quando as pessoas à sua volta sucumbiam à peste.
Como meio de prevenir o contágio, porém,
as especiarias eram completamente inúteis. Na verdade, eram piores que inúteis;
para começar, foram em parte responsáveis pela chegada e a difusão da peste. O
porto genovês de Caffa era valioso porque se situava no extremo oeste da Rota
da Seda para a China, e porque especiarias e outras mercadorias provenientes da
Índia, enviadas golfo acima e depois transportadas por terra para Caffa e
outros portos do mar Negro davam a volta por trás da cortina muçulmana. Assim,
Caffa permitia aos genoveses burlar o monopólio muçulmano e obter mercadorias
orientais para vender a fregueses europeus. (Nessa altura, seus arquirrivais,
os venezianos, haviam se aliado aos sultões muçulmanos que controlavam o
comércio no mar Vermelho e agiam como seus distribuidores europeus oficiais.) A
peste, que parece ter se originado na Ásia Central, chegou a Caffa pelas rotas
comerciais terrestres antes de se espalhar pela Europa através dos navios de
especiarias genoveses.
Quando a relação entre o comércio de
especiarias e a peste foi percebida, já era tarde demais. “Em janeiro de 1348,
impelidas por um violento vento leste, três galés entraram no porto de Gênova,
horrivelmente infectadas e carregadas com variedades de especiarias e outras
mercadorias valiosas”, escreveu um cronista flamengo. “Quando os habitantes de
Gênova ficaram sabendo disso, e viram quão repentina e irremediavelmente elas
infectavam outras pessoas, as embarcações foram expulsas daquele porto por
flechas incendiárias e diversas máquinas de guerra; pois nenhum homem ousava
tocá-las; não havia tampouco nenhum homem capaz de comerciar com elas, pois se
o fizesse estaria certo de morrer imediatamente. Assim, elas foram escorraçadas
de porto em porto.” Mais tarde naquele ano, um escritor francês em Avignon
escreveu, acerca dos navios genoveses, que “as pessoas não comem, sequer tocam,
especiarias que não ficaram armazenadas por um ano, pois temem que possam ter
chegado recentemente nos supracitados navios ... Foi observado muitas vezes que
aqueles que comeram as novas especiarias ... caíram subitamente doentes.”
A importância das várias rotas marítimas e
terrestres entre a Europa e o Oriente variava de acordo com a situação
geopolítica na Ásia Central. A unificação política sob o Império Mongol, por
exemplo, que abarcou grande parte do norte da massa eurasiana – da Hungria, no Ocidente,
até a Coreia, no Oriente –, tornou o comércio por terra muito mais seguro, e os
volumes cresceram de maneira correspondente. No século XIII, dizia-se que uma
donzela podia atravessar o Império Mongol caminhando com um pote de ouro na
cabeça sem ser molestada. O estabelecimento de pontos de apoio cristãos no
Levante, durante as Cruzadas, proporcionou outros escoadouros para mercadorias
trazidas por terra pela Rota da Seda ou pelo golfo. Inversamente, a
desintegração do Império Mongol, no início do século XIV, significou que a
balança voltou a pender em favor da rota do mar Vermelho, agora controlada pela
dinastia muçulmana dos mamelucos.
Durante o século XV, houve uma crescente
inquietação na Europa com relação à extensão do controle muçulmano sobre o
comércio com o Oriente. Em 1400, cerca de 80% desse comércio estava em mãos
muçulmanas. Seus distribuidores europeus, os venezianos, estavam no auge do
poder. Veneza negociava cerca de 500 toneladas de especiarias por ano, das
quais 60% eram de pimenta. O carregamento de um único galeão veneziano tinha o
valor equivalente a um resgate real. Vários papas tentaram proibir o comércio
com o mundo muçulmano, mas os venezianos ou os ignoravam ou ganhavam dispensas
especiais para continuar fazendo negócios, como de costume. Nesse meio-tempo,
Gênova estava em declínio. Suas possessões no mar Negro estavam sob pressão dos
turcos otomanos, um poder muçulmano ascendente que avançava sobre o Império
Bizantino, que por sua vez encolhia rapidamente. Entre 1410 e 1414 houve uma
súbita alta dos preços das especiarias – na Inglaterra, o preço da pimenta
subiu oito vezes –, o que lembrou penosamente a todos a grande dependência em
que estavam de seus fornecedores. (As causas dessa elevação foram provavelmente
as atividades de Zheng He, cuja chegada inesperada à costa oeste na Índia rompeu
os padrões usuais de oferta e demanda, e fez os preços subirem.) Tudo isso
alimentou um crescente interesse pela possibilidade de encontrar algum novo
caminho que contornasse a cortina muçulmana e estabelecesse vínculos comerciais
diretos com o Oriente.
A queda de Constantinopla, em 1453, é por
vezes retratada como o evento que finalmente desencadeou a idade europeia das
explorações, mas ela foi apenas o mais proeminente de uma série de eventos que extinguiram
por completo a rota terrestre para o Oriente. Em 1451, os turcos otomanos já
haviam conquistado a Grécia e a maior parte da Turquia ocidental, e consideravam
Constantinopla, agora o último reduto significativo do antigo Império
Bizantino, um “osso na garganta de Alá”. Depois da queda, eles impuseram
pesados pedágios a navios que entravam e saíam do mar Negro, e em seguida
trataram de tomar os portos genoveses em torno de sua costa, inclusive Caffa,
que foi tomada em 1475. Enquanto isso, os rivais muçulmanos dos otomanos, os
mamelucos, aproveitaram a oportunidade para elevar as tarifas sobre as
especiarias que passavam por Alexandria, provocando uma alta constante dos
preços na Europa durante a segunda metade do século XV. Em suma, não foi
simplesmente a queda de uma cidade, mas o crescimento gradual da insatisfação
com o monopólio muçulmano sobre as especiarias que incitou exploradores
europeus a buscar rotas marítimas para o Oriente inteiramente novas.
6. Sementes de impérios
“Depois do ano 1500 não se encontrava em Calicute nenhuma
pimenta que não estivesse tingida de sangue.”
VOLTAIRE, 1756
“Acredito ter
encontrado ruibarbo e canela”
Em junho de 1474, Paolo
Toscanelli, um eminente astrônomo e cosmógrafo italiano, escreveu uma carta
para a corte portuguesa em Lisboa esboçando sua extraordinária teoria: a rota
mais rápida da Europa para a Índia, “a terra das especiarias”, era navegar para
o oeste, em vez de tentar navegar para o sul e para o leste em torno da parte
inferior da África. “E não se espantem quando digo que as especiarias crescem
em terras a oeste, ainda que costumemos dizer a leste”, escreveu ele.
Toscanelli descreveu as riquezas do Oriente, fazendo grandes empréstimos da
narrativa de Marco Polo, e incluiu prestimosamente uma carta náutica que mostrava
as ilhas de Cipangu e Antília, localizadas no caminho para Cathay (China), que
ele estimava estar 10 mil quilômetros a oeste da Europa. “Esse país é mais rico
que qualquer outro já descoberto, e não somente poderia fornecer grande lucro e
muitas coisas valiosas, como também possui ouro, prata, pedras preciosas e toda
sorte de especiarias, em grandes quantidades”, declarou ele. A corte portuguesa
acabou por ignorar o conselho de Toscanelli, mas Cristóvão Colombo, um
marinheiro genovês que vivia em Lisboa na época, ouviu falar da carta e obteve
uma cópia dela, possivelmente do próprio Toscanelli.
Como Toscanelli, Colombo estava convencido
de que navegar para oeste era a rota mais rápida para as Índias, e passou
muitos anos reunindo documentos que sustentavam sua argumentação, efetuando
cálculos e traçando mapas. A ideia tinha sólidos fundamentos intelectuais –
autoridades antigas, Ptolomeu e Estrabão, haviam aludido a ela; Colombo inspirava-se
também em Pierre d’Ailly, um erudito francês do século XIV cuja “Descrição do mundo”
declarava que a viagem da Espanha para a Índia, navegando para o oeste, levaria
“alguns dias”. Mas o respaldo de Toscanelli, um dos cosmógrafos mais
respeitados de seu tempo, deu peso adicional à sua teoria.
Baseando-se nos cálculos de Ptolomeu, que
havia superestimado o tamanho da Eurásia e subestimado a circunferência da
Terra, Colombo escolheu a dedo estimativas de várias autoridades para se
convencer de que a Terra era ainda menor e a Eurásia ainda maior, encolhendo
assim o oceano que estava de permeio. Usou uma estimativa de Al-Farghani, um geógrafo
muçulmano, para a circunferência da Terra; deixou, porém, de levar em conta a diferença
entre milhas muçulmanas e romanas, e acabou com um número que era, convenientemente,
25% menor do que devia. Depois, usou a estimativa excepcionalmente grande do
tamanho da Eurásia de Marino de Tiro, e acrescentou a isso descrições que Marco
Polo fizera de Cipangu (Japão), uma grande ilha que estaria supostamente a
centenas de quilômetros da costa leste da China, o que reduzia ainda mais a
amplitude do oceano que teria de cruzar. Desse modo Colombo calculou a
distância entre as ilhas Canárias (ao largo da costa oeste da África) e o Japão
como sendo ligeiramente superior a 3.200 quilômetros – menos de um quarto da
verdadeira distância.
Convencer um patrocinador a financiar a
expedição que propunha, contudo, provou-se difícil. Isso não ocorreu, como por
vezes se sugere, porque os grupos de especialistas nomeados nos anos 1480 pelas
cortes portuguesa e espanhola para avaliar a proposta de Colombo discordaram de
sua afirmação de que a Terra era esférica; isso era geralmente aceito. O
problema foi que seus cálculos pareciam duvidosos, em particular porque se
baseavam em evidências fornecidas por Marco Polo, cujo livro descrevendo as
viagens no Oriente era considerado em geral, na época, uma obra de ficção.
Portugal estava, de todo modo, desenvolvendo seu próprio programa de exploração
da costa oeste da África, e não estava disposto a abandoná-lo (razão por que a
carta de Toscanelli também caiu em ouvidos moucos). Assim, ambos os grupos de
especialistas disseram não. A sorte de Colombo mudou, porém, quando o rei
Fernando e a rainha Isabel da Espanha, que acabavam de conquistar Granada, o
último baluarte muçulmano na Espanha, decidiram afinal patrociná-lo. Colombo
talvez os tenha levado a mudar de opinião ao sugerir que os lucros de sua
expedição poderiam financiar uma campanha para reconquistar Jerusalém.
Certamente ele apresentou sua viagem como uma aventura abertamente comercial, e
os documentos que definiram as condições da expedição lhe asseguravam “um
décimo de todo o ouro, prata, pérolas, gemas, especiarias e outras mercadorias
produzidas ou obtidas por permuta e mineração dentro dos limites daqueles
domínios”.
Seus três navios rumaram para oeste a
partir das ilhas Canárias em 6 de setembro de 1492, e encontraram terra, após
uma viagem cada vez mais angustiante, no dia 12 de outubro. Colombo teve
certeza de que havia riquezas ao alcance assim que avistaram terra. Seu diário
de bordo menciona “ouro e especiarias” repetidamente e detalha tentativas de
convencer os nativos a lhe dizer onde encontrá-los. “Eu estava atento e dei-me
ao trabalho de averiguar se havia ouro”, escreveu em seu diário em 13 de
outubro, após encontrar um grupo de nativos. Duas semanas depois de chegar,
visitou várias das que supôs serem as 7.459 ilhas que Marco Polo afirmou se
situarem ao longo da costa leste da China, e escreveu em seu diário: “Desejei
partir hoje para a ilha de Cuba ... sendo minha crença que ela será rica em
especiarias.” Colombo não conseguiu encontrar especiarias em Cuba, mas
disseram-lhe ser possível encontrar canela e ouro mais a sudeste. Em meados de
novembro, ele ainda sustentava em seu diário que “sem dúvida há nestas terras
uma grande quantidade de ouro ... pedras, pérolas preciosas e infinitas
especiarias”. Em dezembro, ancorado ao largo da ilha que chamou de Hispaniola,
registrou que podia ver na costa “um campo de árvores de mil tipos, todas
carregadas de frutas ... que se acredita serem especiarias e nozes-moscadas”.
Como se comunicava com os nativos usando a
linguagem dos sinais, Colombo podia interpretá-los praticamente como bem
entendia. De maneira igualmente conveniente, havia várias explicações
plausíveis para seu fracasso em encontrar qualquer especiaria. Talvez não fosse
a estação própria; seus homens não conheciam as técnicas corretas de colheita e
processamento; e, é claro, de qualquer maneira os europeus não sabiam que aparência
tinham as especiarias na natureza. “Não ter conhecimento dos produtos causa-me
o maior pesar do mundo, pois vejo mil tipos de árvores, cada uma com sua
característica especial, bem como mil tipos de ervas com suas flores; no
entanto não conheço nenhuma delas”, escreveu Colombo. Ao que parece, ele sofria
também de falta de sorte: um membro da tripulação disse ter encontrado três
lentiscos, mas lamentavelmente deixara a amostra cair; outro disse ter
descoberto ruibarbo, mas não conseguira colhê-lo sem uma pá.
Colombo partiu para a Espanha em 4 de
janeiro de 1493, tendo reunido uma pequena quantidade de ouro através de
negociações com nativos. Levou também amostras do que pensava serem
especiarias. Depois de uma viagem difícil, chegou de volta à Espanha em março
de 1493, e sua carta oficial a Fernando e Isabel relatando suas descobertas
tornou-se um best-seller em toda a Europa, com 11 edições publicadas até o fim
daquele ano. Ele descreveu ilhas exóticas com montanhas elevadas, aves estranhas
e novos tipos de fruta. Sobre a ilha de Hispaniola, escreveu: “Há muitas
especiarias e grandes minas de ouro e outros metais.” Explicou que a
distribuição das riquezas dessas novas terras podia começar imediatamente:
“Darei a Suas Majestades especiarias e algodão de imediato, tanto quanto ordenem
que se envie, e tanto quanto ordenem que se envie de lentisco ... e babosa
tanto quanto ordenem que se envie; e escravos tantos quanto ordenem que se
enviem, e estes serão de povos idólatras. E acredito ter encontrado ruibarbo e
canela.”
A julgar pelo tom triunfante da carta,
parecia que Colombo alcançara seu objetivo de encontrar uma nova rota para as
riquezas do Oriente. Embora as ilhas que visitou não correspondessem às
descrições da China e de Cipangu no relato de Marco Polo, ele tinha certeza de
que o continente estava próximo. Que prova melhor haveria do que a presença de canela
e ruibarbo, que sabidamente se originavam nas Índias? Mas a opinião na corte espanhola
ficou dividida. Os gravetos que Colombo dizia serem canela não tinham o cheiro certo
e pareciam ter se estragado durante a viagem de volta. As outras amostras de
especiarias também não impressionavam, e ele só encontrara uma pequena
quantidade de ouro. Céticos concluíram que ele não havia encontrado nada mais
do que algumas novas ilhas no Atlântico. Mas como Colombo afirmou que estava se
aproximando da fonte do ouro, uma segunda expedição, muito maior, foi
despachada.
A segunda expedição só perpetuou a
confusão relativa à existência de especiarias. Escrevendo de Hispaniola em 1494
para sua casa em Sevilha, Diego Álvarez Chanca, que serviu como médico de
Colombo na viagem, explicou a situação: “Há algumas árvores que, ‘penso eu’,
dão nozes-moscadas, mas não estão dando fruto no momento. Digo ‘penso eu’ porque
o cheiro e o gosto da casca se assemelham aos de nozes-moscadas”, escreveu. “Vi
uma raiz de gengibre, que um índio trazia amarrada em volta do pescoço. Há
também babosa: não é do tipo que foi visto até agora em nosso país, mas não
tenho dúvida de que tem valor medicinal. Há também lentisco muito bom.” Nenhuma
dessas coisas estava realmente lá, mas os espanhóis queriam muito que
estivessem. “Foi também encontrado um tipo de canela; é verdade que não é tão
boa como a que conhecemos em casa. Não sabemos se por acaso isso se deve a
falta de conhecimento sobre quando deve ser colhida, ou se por acaso a terra
não produz melhor.”
Colombo lançou-se ele mesmo à exploração,
na esperança de mostrar que havia encontrado o continente asiático. Afirmou ter
descoberto as pegadas de grifos e pensava ter detectado semelhanças entre os
nomes locais dos lugares visitados e aqueles mencionados por Marco Polo. Em
certa altura, conseguiu fazer todos os marinheiros de sua frota jurarem que
Cuba era maior que qualquer ilha conhecida e que estavam muito próximos da
China. Todo marinheiro que refutasse essas afirmações era ameaçado com uma
pesada multa e a perda da língua. No entanto, as dúvidas cresciam à medida que
Colombo voltava de cada uma de suas viagens com somente alguns pedaços de ouro
e mais de suas especiarias duvidosas. Ele precisou recorrer a justificativas
religiosas para suas atividades – os nativos poderiam ser convertidos ao cristianismo
–, embora sugerisse também que poderiam dar bons escravos. Seus colonos tornavam-se
cada vez mais rebeldes. Colombo foi acusado de má administração das colônias e
de ter pintado um quadro enganoso de seu potencial. Ao cabo da terceira viagem,
foi enviado de volta para a Espanha acorrentado e destituído do título de
governador. Após uma quarta e última viagem, morreu em 1506, convencido até o
fim de que tinha realmente chegado à Ásia.
A ideia de encontrar especiarias nas
Américas sobreviveu a Colombo. Em 1518, Bartolomé de las Casas, um missionário
espanhol no Novo Mundo, afirmou que as novas colônias espanholas eram “muito
boas” para gengibre, cravos e pimenta. O conquistador Hernán Cortés encontrou
grande quantidade de ouro, pilhando-o dos astecas durante a conquista espanhola
do México, mas até ele se sentiu mal com relação ao fracasso em obter alguma
noz-moscada ou cravo. Insistiu, em cartas ao rei da Espanha, que acabaria encontrando
o caminho para as ilhas das especiarias. Na década de 1540, outro conquistador,
Gonzalo Pizarro, esquadrinhou a selva amazônica numa busca fatal pela lendária
cidade de El Dorado e pelo “país de la canela”.
Foi só no século XVII que a procura do Velho Mundo por especiarias nas Américas
foi finalmente abandonada.
Obviamente, as Américas ofereciam ao resto
do mundo toda sorte de novos gêneros alimentícios, inclusive milho, batatas,
abóbora, chocolate, tomate, abacaxis e novos condimentos, como baunilha e
pimenta-da-jamaica. E, embora Colombo não tenha conseguido encontrar no Novo
Mundo as especiarias que procurava, encontrou algo que era, sob alguns aspectos,
ainda melhor. “Há abundância de aji”,
escreveu ele em seu diário, “que é a pimenta deles, mais valiosa que
pimenta-do-reino, e todas as pessoas não comem outra coisa, sendo ela muito
saudável. Seria possível carregar 50 caravelas anualmente com ela.” Tratava-se
do chili, e embora não fosse pimenta-do-reino, podia ser usado de maneira
semelhante. Um observador italiano na corte espanhola observou que cinco grãos
eram mais ardidos e tinham mais sabor que 20 grãos da pimenta comum de Malabar.
Melhor ainda, como podia ser facilmente cultivado fora da região de origem,
diferentemente da maioria das especiarias, o chili espalhou-se rapidamente pelo
mundo e em poucas décadas já estava assimilado à culinária asiática.
Apesar das suas virtudes culinárias,
porém, o chili não era o que Colombo queria. A facilidade com que podia ser
transplantado de uma região para outra significava que não tinha o valor
financeiro das especiarias tradicionais, que se devia, em grande parte, às
limitações geográficas de sua oferta e à necessidade de transporte por longas
distâncias. No entanto, o mais importante para Colombo era encontrar as
especiarias do Velho Mundo não por seu gosto ou valor, mas para provar ter
realmente chegado à Ásia. Foi por isso que ele semeou uma confusão que dura até
hoje, chamando os chilis de “pimentas” e as pessoas que encontrou nas Bahamas
de “índios”, em ambos os casos dando-lhes os nomes daquilo que estava empenhado
em encontrar. Isso porque encontrar a fonte das especiarias significava ter
chegado às Índias, as terras exóticas e aromáticas descritas por Marco Polo e
por outros cujas histórias enfeitiçaram os europeus por tantos séculos.
“Cristãos e especiarias”
As especiarias não eram um dos
objetivos originais do programa português para explorar a costa oeste da
África, iniciado nos anos 1420 pelo infante Henrique de Portugal (conhecido em
inglês pelo equivalente de príncipe Henrique o Navegador, mais uma alcunha
criada do século XIX). O objetivo era aprender mais sobre a geografia da costa
e das ilhas próximas, estabelecer relações comerciais e talvez fazer contato
com Preste João, o legendário soberano cristão de um reino que se supunha estar
situado em algum lugar na África ou nas Índias, e que seria um valioso aliado
contra os muçulmanos.
À medida que desciam pela costa africana,
cada um indo um pouco mais longe que o anterior, os navios de Henrique
refutavam a antiga noção grega de que os extremos da Terra ficavam quentes
demais para os humanos. Eles levavam de volta ouro, escravos e “grãos do paraíso”,
uma especiaria inferior parecida com a pimenta-do-reino, vagamente conhecida na
Europa porque era ocasionalmente comerciada através do Saara, chegando ao
Mediterrâneo. Também procuraram algum braço do Nilo, na esperança de segui-lo
contra a corrente para encontrar Preste João. Com o decorrer do século XV,
porém, a necessidade europeia de encontrar uma rota alternativa para as Índias
tornou-se cada vez mais urgente. Os navios portugueses avançaram mais ao sul e
finalmente, em 1488, Bartolomeu Dias contornou o cabo do sul da África – por
acidente, depois de ser arrastado pelo Atlântico por uma tempestade – e em
seguida rumou para leste. Ele voltou a Lisboa com a notícia de que, ao
contrário do que pensavam alguns dos antigos, o oceano Índico não era todo
rodeado por terra e podia ser alcançado a partir do Atlântico – e o mesmo valia,
por extensão, para a Índia.
Por que então Portugal levou
nove anos para enviar uma expedição à Índia? A organização de uma frota teria
levado tempo, mas as descobertas de Colombo no Atlântico podem também ter sido
responsáveis pelo atraso. Se ele tivesse realmente encontrado uma rota para o
leste navegando em direção ao oeste, contornar toda a África seria
desnecessário. Mas quando Colombo voltou de sua segunda viagem, em 1496, com
muito pouco para mostrar, os portugueses recobraram o entusiasmo por uma
expedição à Índia contornando a extremidade sul da África. Os navios zarparam
no ano seguinte. Como um cronista da época relatou sucintamente: “No ano 1497,
o rei Manuel, o primeiro com esse nome em Portugal, enviou quatro navios que
partiram numa busca por especiarias, capitaneados por Vasco da Gama.”
A viagem foi marcada por conflitos
religiosos e rivalidade. Tendo contornado o cabo e navegado pela costa leste da
África acima, Vasco da Gama e seus homens foram confundidos com muçulmanos pelo
sultão de Mocobiquy (Moçambique). Ele prometeu fornecer-lhes um piloto que
poderia guiá-los até a Índia, mas depois percebeu seu erro. Seguiu-se uma luta
e os navios de Vasco da Gama bombardearam a cidade, matando pelo menos duas
pessoas. Houve outras querelas com muçulmanos locais, enquanto os portugueses
tentavam, em vão, conseguir um piloto. Em Malindi, mais acima na costa
africana, Vasco da Gama confundiu os hindus ali residentes com cristãos de uma
seita desconhecida. Depois de conseguir um piloto perito, os navios portugueses
avançaram através do oceano Índico até a costa de Malabar, na Índia, onde ancoraram
perto de Calicute em 20 de maio de 1498. Seguindo o costume, Vasco da Gama enviou
para a costa um degredado, em geral um criminoso ou proscrito considerado sacrificável,
para fazer contato com os nativos. Não conseguindo entendê-lo, os indianos o levaram
à casa de alguns mercadores muçulmanos vindos da Tunísia que ali residiam. “Que
diabos o trouxeram aqui?”, perguntaram eles ao homem. A resposta foi: “Viemos à
procura de cristãos e especiarias.”
Embora as últimas fossem evidentemente
abundantes em Calicute, os primeiros não o eram. Mas Vasco da Gama e seus
homens pensavam de outro modo. Supunham que os hindus nativos eram cristãos,
prostravam-se de joelhos nos templos hindus, confundiam representações de
deusas hindus com a Virgem Maria e imagens de deuses hindus com santos
cristãos. O rei, ou zamorin, de
Calicute foi também tomado por cristão, portanto um aliado natural contra os
comerciantes muçulmanos residentes. Contudo, o rei ficou inteiramente
indiferente às quinquilharias que os portugueses ofereceram (chapéus vermelhos
e recipientes de cobre, itens comuns de permuta na costa oeste da África).
Talvez ele tivesse uma lembrança remota da chegada a Calicute dos galeões de
ouro de Zheng He, apenas algumas décadas antes, que haviam oferecido sedas
suntuosas em troca de especiarias. Esperava-se de estrangeiros misteriosos mais
que as oferendas insignificantes de Vasco da Gama. Este, atribuindo o desapontamento
do zamorin à influência maligna dos
muçulmanos, afirmou que seus navios eram apenas a vanguarda de uma
frota-tesouro, que evidentemente nunca se materializou. Assim, ele rumou para
casa só com pequenas quantidades de pimenta-do-reino, canela, cravo e gengibre,
chegando a Lisboa em setembro de 1499. Somente dois de seus navios e menos da metade
de seus homens haviam sobrevivido à viagem – mas sua expedição mostrara ser possível
evitar a cortina muçulmana e obter especiarias diretamente da Índia.
O rei Manuel ficou encantado, e logo
estava se intitulando “Senhor da Guiné e da Conquista, da Navegação e do
Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia”. Embora isso fosse evidentemente um
enorme exagero, não deixava dúvida acerca de sua intenção: arrancar dos
muçulmanos o controle sobre o comércio de especiarias. Manuel explicou isso em detalhes
numa carta a Fernando e Isabel da Espanha, na qual se vangloriava e declarava
que seus exploradores “realmente chegaram e descobriram a Índia e outros reinos
vizinhos dela ... entraram e navegaram seu mar, encontrando grandes cidades ...
e enormes populações em meio às quais é levado a cabo todo o comércio de especiarias
e pedras preciosas”. Continuando, ele expressou a esperança de que “com a ajuda
de Deus, o grande comércio que agora enriquece os mouros destas partes ...
deverá, em consequência de nossos próprios preceitos, ser desviado para os
nativos e navios de nosso próprio reino, de modo que doravante toda a
cristandade nesta parte do mundo será suprida dessas especiarias”. Manuel queria,
em suma, estabelecer um monopólio português sobre essas mercadorias,
pretensamente por razões religiosas – embora obviamente fosse obter benefícios
comerciais também.
Como podia no entanto o pequenino Portugal
esperar sobrepujar os vários navios muçulmanos do oceano Índico, a milhares de
quilômetros de distância? Os homens de Vasco da Gama haviam contado “cerca de
500 navios mouriscos chegando em busca de especiarias” durante os três meses
que passaram em Calicute. Mas tinham notado também algo muito interessante
sobre esses navios: estavam desarmados. Essa era uma prática corrente no oceano
Índico, onde não havia nenhum poder político ou militar dominante; mesmo os
muçulmanos estavam divididos em várias comunidade distintas. De fato, o que
unia a região era o comércio, baseado em torno de um punhado de portos principais
e algumas dúzias de outros menores. Em cada porto, comerciantes de diferentes
comunidades podiam encontrar depósitos para armazenar suas mercadorias,
serviços bancários, acesso a mercados locais e, com frequência, um bairro da
cidade onde seus pares moravam e suas próprias leis vigoravam. Os portos
competiam para oferecer as mais baixas tarifas e atrair o maior volume de
comércio. Havia um forte senso de reciprocidade: se a polícia de um porto
particular maltratava comerciantes estrangeiros, os próprios comerciantes locais
tinham grande propensão a se queixar, uma vez que tal comportamento podia levar
a retaliação em outros portos e solapar o comércio, o que teria sido ruim para
todos. Ocasionalmente, governantes locais podiam tentar controlar o comércio
numa área específica usando a força, mas isso só tinha por efeito desviar os
negócios para outro lugar. Assim, o comércio desarmado era a norma.
Portugal poderia ter aderido a esse
sistema, pagando às autoridades asiáticas pelo uso das instalações dos portos e
saldando tarifas da maneira usual. Mas os portugueses estavam acostumados com a
maneira como as coisas funcionavam no Mediterrâneo, onde o uso da força para
proteger rotas marítimas, a marinha mercante e colônias comerciais prevalecia
desde os tempos greco-romanos. Além disso, Portugal não esperava apenas
participar do comércio no oceano Índico: queria dominá-lo, expulsando os
muçulmanos. Tudo isso logo ficou claro durante a segunda viagem dos portugueses
à Índia, com uma frota de 13 navios sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que
partiu em março de 1500, menos de seis meses depois do retorno de Vasco da
Gama. Quando avançaram pelo Atlântico rumo ao sul e ao oeste, os navios
encontraram inesperadamente o até então desconhecido continente sul-americano,
e reivindicaram o Brasil para Portugal – mais uma consequência imprevista da
busca de especiarias. Um navio voltou para Lisboa com a notícia, enquanto os
demais prosseguiram para a costa africana, chegando a Calicute em setembro. As
hostilidades começaram quase imediatamente: os homens de Cabral capturaram
alguns navios muçulmanos e, em resposta, os muçulmanos prenderam e mataram
cerca de 40 comerciantes portugueses na cidade. Cabral reagiu apoderando-se de
mais navios muçulmanos e ateando-lhes fogo com as tripulações ainda a bordo. Em
seguida, bombardeou Calicute durante dois dias, aterrorizando os habitantes,
antes de rumar para os portos de Cochin (a atual Kochi) e Cannanore (a moderna
Kannur), onde os governantes locais, preocupados em evitar uma sorte
semelhante, permitiram aos portugueses iniciar postos comerciais em termos
generosos.
Os navios de Cabral voltaram então para
Portugal carregados de especiarias. Sua chegada, em julho de 1501, foi saudada
com júbilo em Lisboa e consternação em Veneza. “Essa foi considerada uma
notícia muito ruim para Veneza”, registrou um cronista. “Os comerciantes
venezianos estão verdadeiramente em maus lençóis.” Afinal, além de trazer o
primeiro grande carregamento de especiarias para a Europa contornando a cortina
muçulmana, os portugueses também pareciam ter eliminado o fornecimento do mar
Vermelho. Em 1502, chegando aos portos mamelucos de Beirute e Alexandria,
navios venezianos constataram que havia muito pouca pimenta-do-reino
disponível, o que elevou os preços às alturas e inspirou alguns observadores a
prever a ruína de Veneza. O número de galeões em sua frota mercante foi
reduzido de 13 para três, e, em vez de mandá-los a Alexandria duas vezes por
ano, como costumava fazer, Veneza começou a enviar a frota ano sim, ano não.
A beligerância dos portugueses alcançou
novos níveis durante a terceira viagem para a Índia, comandada por Vasco da
Gama. Seus navios saquearam portos na costa leste da África, exigindo butim e
tributo. Ao chegar à Índia, queimaram e bombardearam arbitrariamente diversas
cidades na costa, para forçar portos estratégicos a comprar dele um “cartaz”.
Tratava-se de uma permissão que garantia proteção para o porto e seus navios, e
que só era emitida mediante o pagamento de uma taxa e a promessa de não
comerciar com muçulmanos – em outras palavras, extorsão mediante venda de
proteção. Vasco da Gama e seus homens também afundaram e pilharam embarcações
muçulmanas e locais. Em certa ocasião, usaram prisioneiros para a prática de
besta. Mãos, narizes e orelhas de outros prisioneiros foram cortados e enviados
para a terra num bote; os mutilados foram depois amarrados e queimados até a
morte num de seus próprios navios. Por fim, Vasco da Gama negociou um acordo
com fornecedores de pimenta-do-reino em Cochin, carregou seus navios com
especiarias e rumou para casa; no caminho, afundou uma frota local que havia
sido enviada para exigir vingança e bombardeou Calicute mais uma vez, por
medida de precaução.
Esse era o tom dos esforços portugueses
para controlar o comércio no oceano Índico: qualquer navio ou porto sem
“cartaz” era considerado um alvo de hostilidades, os governantes locais eram
intimidados e forçados a negociar em termos generosos com os portugueses e a violência
era usada de maneira arbitrária e imoderada. Outras expedições foram enviadas pelo
rei Manuel com ordens de estabelecer bases em locais-chave e ameaçar navios muçulmanos
navegando entre a Índia e o mar Vermelho, para que “eles não possam transportar
nenhuma especiaria para o território do sultão [mameluco] e todos na Índia
percam a ilusão de poder negociar com qualquer um senão nós”. Em 1510, Portugal
tomou Goa, na costa oeste da Índia, fazendo dela sua maior base no oceano
Índico, e no ano seguinte tomou Málaca, o principal ponto de distribuição de
noz-moscada e cravo das misteriosas ilhas das especiarias, as Molucas, situadas
mais a leste. Pouco depois, uma expedição portuguesa finalmente chegou a essas
ilhas, procuradas durante tanto tempo, e relações comerciais informais foram iniciadas.
Noz-moscada e macis seriam encontrados nas ilhas Banda, perto dali.
Os portugueses haviam encontrado as fontes
exatas do comércio de especiarias, mas o plano de tomar dos muçulmanos o
controle do fornecimento para a Europa acabou fracassando. O oceano Índico era
simplesmente grande demais. No máximo, Portugal chegou a controlar cerca de 10%
do comércio de pimenta-do-reino de Malabar, e talvez 75% do fluxo de
especiarias para a Europa, mas as tentativas de bloquear o transporte muçulmano
nunca foram mais do que parcialmente eficazes. Em 1560, o fluxo de especiarias
levadas por comerciantes muçulmanos a Alexandria havia retornado aos níveis
anteriores. Mas, ainda que tenha fracassado nos esforços para estabelecer um
monopólio, Portugal teve êxito em definir um novo modelo para o comércio
europeu no Oriente, baseado em monopólios e bloqueios impostos por navios
armados a partir de uma rede de postos comerciais. Esse modelo foi rapidamente
adotado por seus rivais europeus. Muito apropriadamente, as rivalidades entre essas
potências coloniais emergentes centraram-se nas próprias ilhas Molucas.
Sementes de impérios
As especiarias ajudaram a atrair
Colombo para o oeste, onde não seriam encontradas, e Vasco da Gama para o
leste, onde foram achadas em abundância. E para coroar as façanhas de ambos na
criação de novas rotas marítimas, elas também inspiraram a primeira circunavegação
da Terra. Em 1494, Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas, que
previa uma maneira simples de dividir as novas terras alcançadas por seus
exploradores. Eles traçaram uma linha que passava pelo meio do oceano Atlântico,
a meio caminho entre as ilhas de Cabo Verde, ao largo da costa africana (que
eram reivindicadas por Portugal), e Hispaniola (que Colombo acabava de reclamar
para a Espanha). Combinou-se que qualquer nova terra a oeste da linha
pertenceria à Espanha, e aquelas a leste pertenceriam a Portugal; a opinião dos
habitantes locais foi considerada irrelevante. Posteriormente percebeu-se que parte
da América do Sul, desconhecida na época da assinatura do tratado, situava-se a
oeste da linha, mas, como o acordo declarava expressamente que ela pertencia a
Portugal, a região se tornou portuguesa. Tudo parecia muito bem acertado até
que os portugueses chegaram às Molucas, do outro lado do mundo. De que lado da
linha estavam? O tratado de 1494 não especificara uma linha divisória no
Pacífico, mas a maneira lógica de traçar uma era estender o meridiano atlântico
em torno do globo – caso em que, suspeitava a Espanha, as ilhas das especiarias
poderiam cair no lado que ela considerava sua propriedade. Uma expedição espanhola
foi devidamente despachada para definir a localização precisa das ilhas das especiarias
e reivindicá-las para a coroa espanhola.
Muito estranhamente, a expedição foi
chefiada por um navegador português, Fernão de Magalhães, que caíra em desgraça
na corte portuguesa, renunciara à sua nacionalidade e oferecera seus serviços à
Espanha. Os navios rumaram para o oeste através do Atlântico em 1519, e foram
os primeiros a atravessar do Atlântico para o Pacífico pela passagem hoje conhecida
como estreito de Magalhães, na extremidade sul da América do Sul. Fernão de Magalhães
foi morto nas Filipinas em 1521, quando interveio numa contenda entre dois
chefes locais, mas a expedição continuou e chegou às Molucas.
Depois de ser carregado com cravos, um dos
navios de Magalhães, o Victoria, capitaneado por Juan Sebastian Elcano, continuou
rumo a oeste, chegando de volta a Sevilha em 1522. As 26 toneladas de cravos a
bordo cobriram todo o custo da expedição, e Elcano foi recompensado com um
brasão ornamentado com paus de canela, nozes-moscadas e cravos. A viagem
provara definitivamente que o mundo era redondo e que os oceanos eram
interligados. Um membro da tripulação, um abastado italiano chamado Antonio
Pigafetta, manteve um diário detalhado, e observou algo extraordinário quando o
navio parou para se abastecer nas ilhas de Cabo Verde, no caminho de volta para
a Espanha: era o dia errado, “pois havíamos feito nossa viagem sempre para o
oeste, e tínhamos voltado ao mesmo lugar de partida do sol, razão por que a
longa viagem havia proporcionado um ganho de 24 horas, como se vê claramente”.
A circunavegação, porém, não resolveu a
disputa pela propriedade das Molucas. Isso seria finalmente decidido por outro
tratado, em 1529, quando a Espanha abriu mão de sua reivindicação
geograficamente duvidosa em troca de um pagamento de 350 mil ducados de ouro
por Portugal. Ao fim e ao cabo, a discussão sobre quem tinha direito às Molucas
tornou-se irrelevante graças à união das coroas de Espanha e Portugal em 1580.
A essa altura, contudo, os ingleses e
holandeses tinham entrado em cena. O explorador inglês Francis Drake passou
pelas Molucas em 1579, e observou que elas produziam uma “abundância de cravos,
de que nos abastecemos em grande monta, tão grande quanto nosso desejo de que
seu preço fosse muito baixo”. A viagem de Drake inspirou várias tentativas subsequentes
de outros marinheiros ingleses, todas terminadas em fracasso. Os holandeses tiveram
mais sucesso. Durante algum tempo, mercadores holandeses tinham sido os distribuidores
de especiarias portuguesas no norte da Europa, mas, como perderam esse privilégio
após a união da Espanha com Portugal, passaram a tentar estabelecer seu próprio
fornecimento. Informações reunidas por Jan Huyghen van Linschoten, um especialista
holandês que trabalhara muitos anos para os portugueses na Índia, indicavam que
uma excelente pimenta-do-reino local podia ser encontrada em Java. Como os
portugueses não comerciavam ali, comprando pimenta na Índia, dificilmente
poderiam se queixar se os holandeses manifestassem interesse pelo produto. Após
uma expedição bem-sucedida a Java em 1595, comerciantes holandeses que se
associaram através da Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), ou Companhia
Holandesa das Índias Orientais, em 1602, começaram a fazer carregamentos
regulares de especiarias da região, tirando partido da incapacidade de Portugal
de controlar o abastecimento.
Quando perceberam quão tênue o controle
português realmente era, os astutos holandeses decidiram tomar o controle do
comércio, e enviaram uma grande frota para as ilhas das especiarias em 1605.
“As ilhas de Banda e as Molucas são nosso alvo principal”, explicaram os
diretores da VOC para seu almirante na região. “Recomendamos fortemente que o
senhor tente vincular essas ilhas à Companhia, se não por tratado, então pela
força!” Os holandeses expulsaram os espanhóis e portugueses das Molucas, ordenaram
a alguns navios ingleses recém-chegados que partissem e assumiram controle
direto sobre o fornecimento de cravos. A VOC passou, então, a impor
implacavelmente seu novo monopólio, decidida a triunfar onde os portugueses
tinham fracassado. A produção de cravos foi concentrada nas ilhas centrais de Ambon
e Ceram, para ser mais rigorosamente controlada; os antigos arvoredos de
craveiros em outras ilhas foram extirpados, os apanhadores massacrados e suas
aldeias incendiadas.
Onde a produção de cravos foi permitida, o
cultivo de outros produtos agrícolas foi proibido, para assegurar que os nativos
ficassem dependentes dos holandeses para alimentação. Os holandeses vendiam
comida a alto preço e compravam os cravos por uma baixa quantia. A produção
declinou, levando os holandeses a ordenar o plantio de mais árvores. Quando
estas cresceram, porém, a oferta superou a demanda e os agricultores receberam
ordem de abatê-las novamente. Seguiu-se um ciclo de expansões e retrações, enquanto
os holandeses lutavam para conciliar uma demanda variável com a oferta que dependia
de árvores de crescimento lento e agricultores insatisfeitos. O cultivo de
cravos fora do controle holandês era punido com pena de morte, e o comércio
clandestino reprimido. O porto de Makassar, um centro comercial regional onde
ingleses, portugueses e chineses iam comprar cravos contrabandeados, foi
fechado.
Houve um caso semelhante nas ilhas Banda,
que ficavam ali perto e eram a fonte de noz-moscada e macis. De início os
holandeses convenceram os habitantes a assinar um documento concordando em não
vender suas especiarias para mais ninguém, mas eles continuaram a fazê-lo
normalmente, provavelmente por desconhecer o teor do que haviam assinado.
Vendiam, em especial, para os ingleses, que haviam estabelecido uma base na
pequena ilha de Run, um pouco a oeste. Uma tentativa holandesa de construir um
forte nas Bandas em 1609 provocou uma disputa com os nativos; um grupo chefiado
por um almirante holandês que chegara para negociar foi dizimado pelos
bandaneses, com o apoio dos ingleses. Os holandeses retaliaram apoderando-se
das Bandas, construindo dois fortes e reivindicando outro monopólio sobre as especiarias.
Aldeias foram incendiadas e os habitantes foram mortos, expulsos ou vendidos como
escravos. Os chefes das aldeias foram torturados e depois decapitados pelos
samurais mercenários da VOC, trazidos do Japão, onde os holandeses eram os
únicos europeus com permissão para negociar. As ilhas foram então divididas em 68
lotes, abastecidos com escravos e arrendados a ex-empregados da VOC. As
condições eram brutais – os trabalhadores nos lotes de noz-moscada eram
executados de uma variedade de maneiras horripilantes pela mais insignificante
transgressão –, mas agora o fluxo das especiarias mais valiosas estava em mãos
holandesas.
Os ingleses concordaram em se retirar das
ilhas das especiarias em 1624, e passaram a se concentrar em oportunidades
comerciais na China e na Índia, embora os holandeses lhes tivessem permitido
conservar a soberania sobre Run, onde um pequeno contingente havia resistido
durante muitos anos. Esse minúsculo pontinho de terra, com 3,2 quilômetros de comprimento
e menos de 800 metros de largura, havia sido originalmente reivindicado pelos ingleses
em 1603, exatamente quando os tronos inglês e escocês se uniram – tendo sido portanto
a primeira possessão colonial britânica no mundo, o primeiro minúsculo passo em
direção à formação do Império Britânico. Finalmente, em 1667, Run foi entregue
aos holandeses sob os termos do Tratado de Breda, um dos muitos tratados de paz
assinados durante as intermitentes guerras anglo-holandesas dos séculos XVII e
XVIII. Como parte do acordo de 1667, a Grã-Bretanha recebeu uma pequena ilha na
América do Norte chamada Manhattan.
Os lucros do comércio de especiarias
ajudaram a custear a “idade de ouro” da Holanda do século XVII, um período em
que esse país ficou à frente do mundo no comércio, na ciência e na inovação
financeira, e a abastada classe mercantil patrocinou artistas como Rembrandt e Vermeer.
Em última análise, porém, o monopólio holandês provou-se menos valioso que o esperado.
As guarnições e navios de guerra necessários para protegê-lo eram enormemente dispendiosos
e não eram justificados pelos lucros, à medida que o preço das especiarias começou
a cair na Europa, no fim do século XVII. Como essa queda de valor devia-se em parte
a uma oferta mais abundante, os holandeses impuseram-lhe limitações
artificiais: queimaram grandes quantidades de especiarias nas docas de
Amsterdam e começaram a limitar os volumes expedidos da Ásia, num esforço para segurar
os preços. Porém, com o comércio de têxteis tornando-se cada vez mais
importante, as especiarias passaram a ser responsáveis por uma parcela menor
dos lucros holandeses, caindo de 75% em 1620 para 23% em 1700.
Os preços mais baixos obtidos na Europa
também refletiam uma mudança mais profunda no comércio desses produtos.
Dissipados os mitos sobre sua procedência sobrenatural, eles já não eram tão
fascinantes; tornaram-se facilmente acessíveis, até banais. Pratos fortemente condimentados
começaram a ser vistos como fora de moda, na melhor das hipóteses, ou decadentes,
na pior, à medida que os gostos mudavam e novas culinárias, mais simples, entravam
em moda na Europa. Ao mesmo tempo, novos símbolos exóticos de status, tais como
tabaco, café e chá, eclipsaram as especiarias. Ao dissiparem o mistério sobre
as origens destas, os negociantes, paradoxalmente, acabaram por desvalorizar o
tesouro que tinham procurado com tanto afinco. Hoje, a maioria das pessoas
passa pelas especiarias nos supermercados, dispostas nas prateleiras em
pequenos frascos de vidro, sem lhes dar a menor atenção. De certo modo, é um
triste fim para um comércio outrora poderoso, que remodelou o mundo.
Alimentos locais e
globais
Sendo idealmente adequadas ao
transporte por longas distâncias, as especiarias levaram à implantação das
primeiras redes comerciais globais. As grandes distâncias que viajavam eram uma
das razões por que as pessoas se dispunham a pagar tanto por elas – pelo menos
algumas pessoas. Nem todos, no entanto, aprovavam que esses ingredientes
frívolos, dispensáveis, fossem transportados por tão longe: já mencionamos os
comentários negativos de Plínio o Velho sobre a pimenta no século I. Hoje, um
argumento semelhante é proposto pelos adeptos da “comida local”, que defendem o
consumo da comida produzida perto dos consumidores (num raio de 160
quilômetros, digamos), em vez daquela trazida de mais longe. Eles condenam o
transporte de alimentos que, em alguns casos, viajam milhares de quilômetros da
fazenda ao prato; alguns fundamentalistas da comida local tentam até evitar alimentos
não locais por completo. Plínio achava que comprar comida importada era
simplesmente um desperdício de dinheiro, mas os defensores da comida local de
nossos dias (chamados em inglês de locavores)
geralmente fundam seus argumentos na proteção do ambiente: o transporte de toda
essa comida de um lado para o outro causa emissões de dióxido de carbono que
contribuem para a mudança climática. Isso deu origem ao conceito de “milhas alimentares”
– a ideia de que a distância pela qual a comida é transportada dá uma medida razoável
do dano ambiental que causou, e de que deveríamos, portanto, comer alimentos locais
para minimizar esse impacto.
Parece bastante plausível, mas a realidade
é bem mais complexa. Em primeiro lugar, produtos locais podem por vezes ter um
impacto ambiental maior que aqueles produzidos em outros países, simplesmente
porque alguns lugares são mais adequados que outros para a produção de
determinados alimentos. Os tomates são normalmente cultivados em estufas aquecidas
na Grã-Bretanha, por exemplo, resultando num maior volume de emissões de carbono
do que tomates cultivados na Espanha, mesmo levando-se em conta as emissões produzidas
pelo transporte dos tomates espanhóis.
De maneira semelhante, um estudo realizado
na Universidade Lincoln, na Nova Zelândia, descobriu que a carne de cordeiro
produzida naquele país era responsável pela emissão de muito menos dióxido de
carbono (563 quilos por tonelada métrica de carne) que a carne de cordeiro
produzida na Grã-Bretanha (2.849 quilos por tonelada métrica de carne). Isso se
deve, em grande parte, ao fato de haver mais espaço para pastos na Nova
Zelândia, permitindo que os cordeiros comam capim, ao passo que na Grã-Bretanha
eles recebem ração, cuja produção requer a queima de grande quantidade de
carvão. Enviar carne de cordeiro da Nova Zelândia para a Grã-Bretanha envolve
emissões adicionais de 125 quilos por tonelada métrica, de modo que a “pegada
de carbono” da carne de cordeiro da Nova Zelândia é muito menor, mesmo quando o
transporte é levado em conta. Talvez a maneira menos poluidora de organizar a
produção de alimentos fosse alcançada se países ou regiões se concentrassem nos
alimentos que podem produzir de maneira particularmente eficiente, dadas as
condições locais, e trocassem os alimentos resultantes uns com os outros.
Concentrar-se nas emissões de carbono
relacionadas ao transporte dos alimentos pode ser também escolher o alvo
errado. Um estudo americano constatou que o transporte é responsável por 11% da
energia usada na cadeia alimentar, comparados com 26% para o processamento e
29% para o cozimento. No caso das batatas, as emissões associadas a seu cozimento
ultrapassam de longe aquelas envolvidas no cultivo e no transporte. Você deixar
ou não a panela tampada ao cozinhar batatas tem mais impacto sobre as emissões
totais de dióxido de carbono que o fato de elas serem cultivadas em lugares
próximos ou muito distantes. Outro complicador é a ampla variação da eficiência
dos diferentes meios de transporte. Um navio grande pode transportar uma
tonelada de comida por 1.200 quilômetros com um galão de combustível, enquanto
com a mesma quantidade um trem faz cerca de 320 quilômetros, um caminhão faz 96
e um carro, 32. Portanto, o percurso de ida e volta de carro entre sua casa e a
loja ou o mercado pode produzir mais emissões, para uma certa quantidade de
comida, que todo o resto da viagem.
É claro que nem todos os argumentos
apresentados em favor do alimento local são ambientais: há argumentos sociais
também. Essa prática pode promover a coesão social, apoiar empresas locais e
incentivar pessoas a se interessar mais pela procedência dos alimentos e o modo
como são cultivados. Há também, por outro lado, argumentos sociais em favor de
alimentos importados. Em particular, um foco exclusivo em alimentos locais prejudicaria
as perspectivas de agricultores em países em desenvolvimento, que cultivam produtos
de alto valor para exportar para mercados estrangeiros. Afirmar que eles
deveriam se concentrar no cultivo de gêneros de primeira necessidade para si
mesmos, em vez de produtos mais valiosos para estrangeiros abastados, é o mesmo
que lhes negar a oportunidade de desenvolvimento econômico.
Há indubitavelmente algum espaço para a
“realocação” da oferta de alimentos. Além disso, no mínimo o debate sobre os
quilômetros que os alimentos percorrem está fazendo consumidores e companhias
prestarem mais atenção ao impacto ambiental deles. Mas o provincianismo pode
ser levado longe demais. Equiparar alimento local a alimento virtuoso, hoje
como nos tempos romanos, é demasiado simplista. A rica história do comércio das
especiarias nos lembra que, durante séculos, as pessoas apreciaram sabores
exóticos do outro lado do mundo, e que a satisfação de suas necessidades gerou
uma florescente rede de trocas comerciais e culturais. Os caçadores-coletores
eram limitados à comida local por definição; mas se gerações subsequentes
tivessem se limitado da mesma maneira, o mundo seria hoje um lugar muito
diferente. Reconhecidamente, o legado do comércio das especiarias é misto. As grandes
viagens em busca delas revelaram a verdadeira geografia do planeta e
inauguraram uma nova era na história humana. Foi também por causa delas que
potências europeias começaram a ocupar bases pelo mundo e a estabelecer postos
comerciais e colônias. Além de enviar europeus em viagens de descoberta e
exploração, as especiarias forneceram as sementes a partir das quais os
impérios coloniais da Europa floresceram.
INTRODUÇÃO Ingredientes do passado
Tom Standage
Uma história comestível da humanidade
Tradução:
Maria Luiza X. de A. Borges
Uma edição:
Zahar Editores
Disponibiliado por:
Le Livros
DADOS DE COPYRIGHT
Sobre a obra:
A presente obra é disponibilizada pela equipe Le Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.
É expressamente proibida e totalmente repudíavel a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo
Sobre nós:
O Le Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de dominio publico e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso
site: LeLivros.link ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link.
"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."
Sumário
INTRODUÇÃO Ingredientes do passado
PARTE I Os fundamentos comestíveis da civilização
1. A invenção da agricultura
2. As raízes da modernidade
PARTE II Comida e estrutura social
3. Alimento, riqueza e poder
4. Seguir o alimento
PARTE III Os caminhos dos alimentos
5. Estilhaços do paraíso
6. Sementes de impérios
PARTE IV Comida, energia e industrialização
7. Novo Mundo, novos alimentos
8. A máquina a vapor e a batata
PARTE V Comida é arma
9. O combustível da guerra
10. Luta por comida
PARTE VI Comida, população e desenvolvimento
11. Alimentar o mundo
12. Paradoxos da abundância
EPÍLOGO Ingredientes do futuro
Notas
Bibliografia
Agradecimentos
Índice remissivo




Nenhum comentário:
Postar um comentário